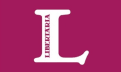Entrevista histórica com Ana Lopez, do Sindicato Internacional de Trabalhadores do Sexo
A Red & Black Revolution entrevistou Ana Lopez, uma das fundadoras do International Union of Sex Workers (IUSW), que trabalhava como profissional do sexo em Londres quando terminou o mestrado e queria iniciar um doutoramento. “Ao apoiar este tipo de iniciativa de organização das trabalhadoras do sexo, não é necessário concordar com a minha visão de que o trabalho sexual é uma forma legítima de trabalho e que não é inerentemente explorador.”
Podes, por favor, apresentar-te e apresentar o sindicato de que fazes parte e que ajudaste a fundar?
O meu nome é Ana Lopez e sou do Sindicato Internacional dos Trabalhadores do Sexo. Fui uma das fundadoras do IUSW. Trabalhava como profissional do sexo em Londres quando terminei o mestrado e queria começar o doutoramento. Como trabalhava nesta área, decidi que faria investigação para o doutoramento dentro da indústria do sexo. Não acredito na ciência pela ciência. Acredito que qualquer tipo de investigação deve comprometer-se e ser útil para as pessoas que estudamos. Comecei a fazer aquilo a que chamamos investigação estratégica, em que se pergunta às pessoas que queremos estudar que tópicos consideram relevantes ou que áreas precisam de ser estudadas, e que tipo de informação precisam de recolher para responder a essas necessidades.
Realizei a entrevista piloto com pessoas de diferentes sectores da indústria do sexo: da prostituição, trabalhadoras da rua, modelos e actores de pornografia. E fiz-lhes este tipo de perguntas. O que descobri, a partir deste grupo inicial de pessoas, foi que uma das principais queixas era sentirem-se muito isoladas e sem uma voz colectiva. Diziam-me que precisavam de uma voz colectiva para eliminar a exploração que enfrentavam. Este grupo de pessoas não sentia que o seu trabalho fosse inerentemente mau ou imoral, mas sentia que eram forçadas a trabalhar em condições exploratórias por causa da legislação e do estigma associado ao seu trabalho. Queriam também responder à forma como os média as retractavam. O público em geral só tem acesso à visão mediática do trabalho sexual — uma imagem muito a preto e branco, que não faz justiça às realidades e experiências múltiplas que existem dentro do trabalho sexual.
Quando ouvi tudo isto, interpretei-o a partir da minha experiência como activista: percebi que não me estavam a dar um tema de investigação, mas sim um apelo à acção. E achei que tinha a responsabilidade de fazer com que essa acção acontecesse, com a ajuda delas. Por isso, convidei as pessoas que tinha entrevistado para uma reunião no meu apartamento, com chá e bolachas, e falámos sobre este tipo de investigação. Perguntei-lhes se estavam realmente empenhadas nisto e se gostariam de criar este tipo de plataforma e colectivo em que pudéssemos reivindicar os nossos direitos.
Quando ficou claro que era isso que as pessoas queriam, definimos então a nossa declaração de missão e o que nos movia. Decidimos que estávamos ali para lutar pelos direitos de todos os trabalhadores do sexo, principalmente pelos seus direitos laborais. Sentíamos que o problema com a forma como as trabalhadoras do sexo eram vistas até então era que se discutia sempre no campo do feminismo, do género e da moral. O que nós dizíamos era que se trata de trabalho — e a razão pela qual todas nós estamos nesta indústria é porque precisamos de pagar as contas ao fim do mês. Portanto, se o tratarmos como qualquer outro trabalho, como uma questão laboral, então podemos encontrar soluções. E as soluções passam por eliminar as condições de exploração, não por eliminar a indústria em si. O que se faz noutras indústrias exploratórias também se aplica aqui. As mulheres e as pessoas trans são exploradas em muitas outras indústrias, infelizmente. Mas a resposta do movimento feminista e sindical, nesses casos, é eliminar a exploração — não a indústria. Queríamos alinhar-nos com todas as outras trabalhadoras. Basicamente foi assim que tudo começou.
Como têm feito para recrutar membros para o sindicato, para lá da vossa rede pessoal?
No início, começámos por publicar uma revista, a que chamámos RESPECT! (Rights and Equality for Sex Professionals and Employees in Connected Trades! - Direitos e Igualdade para Profissionais do Sexo e Empregados em Actividades Conexas!). Esta revista tem artigos sobre trabalho sexual e escritos por trabalhadores do sexo. Isso permitiu-nos ir a vários locais onde trabalhadoras do sexo operam — tínhamos algo para oferecer e algo de que falar. Também criámos uma página na internet e uma lista de discussão. Estas duas coisas foram fundamentais para tornar este grupo internacional. Quando começámos, chamávamo-nos "internacional", mas éramos um grupo pequeno, sediado em Londres — não tínhamos nada de internacional. Através da página, pessoas de todo o mundo começaram a juntar-se. Hoje temos mais de dois mil membros na lista de discussão.
Têm membros de todas as áreas do trabalho sexual?
Os dois grupos mais numerosos são pessoas que trabalham na prostituição (e refiro-me a todos os tipos de prostituição: pessoas que trabalham na rua, em espaços interiores, em BDSM, acompanhantes) e pessoas que trabalham na dança — striptease, dança no varão, etc. São os grupos maiores, mas também temos modelos, actrizes e operadoras de sexo por telefone.
Em termos do trabalho que é actualmente legal, quais são os direitos pelos quais estão a lutar?
O direito a ter um contrato de trabalho adequado, e a existência de um código de conduta claro no local de trabalho, onde se especifique o que é permitido e o que não é — tanto para os gerentes como para os clientes. É essencial que isso esteja por escrito e seja muito claro, e que existam mecanismos para actuar quando as regras são quebradas, com sanções para quem as infringir. É por isso muito importante haver procedimentos para apresentar queixas, como em qualquer outro local de trabalho. Agora já existem alguns clubes sindicalizados onde estas coisas começam a existir.
Também lutamos pelos direitos à saúde e segurança, algo básico na maior parte dos outros trabalhos, mas que é ignorado na indústria do sexo. As pessoas usam o corpo para trabalhar, estão a dançar, estão de saltos altos. Por exemplo, não se pode esperar que dançarinas subam e desçam escadas de saltos altos — isso não é seguro. Nem que façam coreografias no chão se o chão não estiver limpo. E não se podem usar produtos abrasivos para limpar o varão, porque as pessoas vão encostar-se a ele.
Como lidam com os aspectos ilegais do trabalho sexual — o que é que o sindicato procura alcançar nesse campo?
Estamos a exigir a descriminalização do trabalho sexual — especificamente da prostituição —, uma vez que todos os estabelecimentos ligados a essa área são ilegais. A prostituição em si é legal, mas tudo o que a rodeia é ilegal. É praticamente impossível exercer esta profissão sem infringir a lei de alguma forma. É isso que torna esta actividade tão perigosa e tão empurrada para a clandestinidade. Estamos a utilizar o peso político do sindicato para pressionar os governos a descriminalizar a prostituição.
O objectivo seria eliminar a prostituição de rua e criar espaços legais e seguros em espaços fechados?
Não, essa é uma ideia que o público em geral tende a achar razoável — e, infelizmente, os políticos também —, mas não seria uma situação justa. Essa ideia parte do pressuposto de que ninguém trabalharia na rua se tivesse escolha. Mas isso não é verdade: há muitas pessoas que preferem trabalhar na rua porque isso lhes dá liberdade; são independentes, não têm patrão, decidem os seus próprios horários. Para muitas, isso é fundamental. O que defendemos é a criação de estabelecimentos legais, para que as pessoas possam trabalhar nesses locais de forma legal. Nessa situação, haveria naturalmente menos pessoas a trabalhar na rua. E para quem optasse por trabalhar na rua, o ideal seria que o pudesse fazer em segurança — em zonas de segurança. Pode não ser o cenário ideal, mas há exemplos em que isso funciona muito bem, como nos Países Baixos e em Edimburgo. É esse o modelo que temos apontado. São zonas designadas pelas autoridades locais como zonas onde se pratica prostituição, e onde a polícia está presente para proteger as trabalhadoras do sexo, em vez de as prender. São zonas bem iluminadas, o que reduz o risco de serem atacadas por clientes violentos ou perigosos
.
Na vossa página referem que a percentagem de mulheres vítimas de tráfico é bastante baixa, mas na comunicação social parece ser um problema enorme. Podes falar sobre isso?
Esta é uma indústria em que há muitas pessoas que querem migrar. As trabalhadoras do sexo são muitas vezes as pessoas mais empreendedoras dentro do seu meio. Há sempre necessidade de rostos novos, por isso, para ter sucesso como trabalhadora do sexo, é preciso mudar de um sítio para outro. Se queres ganhar dinheiro, mudas-te para outro país onde te disseram que podes ganhar mais. Muitas vezes, as pessoas só querem mudar por quererem mudar.
Há, portanto, muita migração. E, muitas vezes, as pessoas não têm oportunidade de migrar de forma legal, pelo que recorrem a terceiros para as ajudar nesse processo. Como se trata de uma indústria ilegal e de um processo de migração também ilegal, isto cria muitas oportunidades para esses intermediários explorarem as trabalhadoras do sexo. A migração é um processo que se pode comparar a uma lotaria: algumas pessoas têm muita sorte e ganham bem no país para onde migraram, outras têm histórias bastante duras. Há um espectro de situações. Num extremo, há pessoas que conseguiram o que queriam; no outro, há quem tenha sido vítima de exploração — em casos extremos, de escravidão. Isto é absolutamente inaceitável, mesmo que fosse só uma pessoa — e não é. Mas há uma tendência para a comunicação social transformar tudo isto numa histeria moral. Fica-se com a impressão de que toda a migração é tráfico humano, o que não é verdade. As situações de exploração, onde as pessoas não têm liberdade de movimentos, são uma minoria muito pequena, se comparadas com o fenómeno da migração em geral. Para compreender este fenómeno, é preciso primeiro olhar para a migração.
Na vossa página, ao desmontar mitos sobre a prostituição e ao mostrar o papel positivo das prostitutas na sociedade, falam do papel que estas desempenham junto de pessoas com deficiências físicas ou outras que, por qualquer razão, não conseguem masturbar-se ou manter relações sexuais com outras pessoas. Mas parece que esse grupo de clientes é muito pequeno, e que são mais os empresários brancos e ricos que utilizam este serviço, perpetuando as dinâmicas de poder e de hierarquia na sociedade. Podes falar disto?
Possivelmente esse grupo de clientes não é tão minoritário como parece. Conheço muitas trabalhadoras do sexo que ganham a maior parte do dinheiro com empregados de escritório e empresários da cidade, o que lhes permite dedicar-se também a clientes com deficiência, cobrando menos a esses. Estas são áreas que estão a crescer.
Há procura — por vários motivos — de serviços sexuais. Acredito que o mercado está a crescer porque, até há pouco tempo, as únicas pessoas com poder económico para recorrer a estes serviços eram homens, empresários, com elevado estatuto financeiro. Mas acho que isso está a mudar, e cada vez mais mulheres têm também poder económico para aceder a serviços sexuais. Ainda existe muito estigma à volta disto. Penso que, quando as mulheres recorrem a trabalhadores do sexo, fazem-no através da internet, de forma mais discreta, para não serem vistas a utilizar esses serviços.
Para mim, não há uma grande separação entre a indústria do entretenimento e a do sexo. No tempo da minha avó, se uma mulher escolhesse ser actriz de teatro, era praticamente o mesmo que ser trabalhadora do sexo — era vista como uma rameira, uma perdida, sem qualquer estatuto social. E isso mudou imenso: hoje, cantoras e actrizes têm um enorme prestígio.
Parece que a prostituição não é como qualquer outro tipo de trabalho. Muitas mulheres sentem-se tratadas como prostitutas — como objectos a usar — e esperam delas que “paguem um favor” com o corpo, mesmo sem nunca terem escolhido essa profissão.
Obrigada por fazeres essa pergunta. Já ninguém me perguntava isso há muito tempo, e é precisamente essa a razão do meu activismo. Nenhuma mulher será livre enquanto todas as trabalhadoras do sexo não forem livres. É exactamente esse estigma — que podemos chamar o estigma da “puta” — que não se limita às trabalhadoras do sexo. Nós, trabalhadoras do sexo, sentimos que todas as mulheres no planeta, em algum momento, sofrem com esse estigma, porque ele está associado ao ser mulher. É por isso que penso que todas as mulheres deviam unir-se em solidariedade para lutar pelos nossos direitos. Porque, a qualquer momento, qualquer uma pode ser chamada de “puta”; e, no dia em que isso deixar de ser um insulto, então estaremos todas livres. Isso deixará de ser um insulto quando as trabalhadoras do sexo forem tratadas com dignidade, como qualquer outra trabalhadora, e quando nenhuma de nós estiver nesta indústria contra a sua vontade. E é esse o papel do sindicato e da auto-organização das trabalhadoras do sexo: garantir que ninguém está nesta indústria contra a sua vontade, e que quem está, possa trabalhar com todos os direitos laborais, com dignidade e respeito.
Acho que a organização das trabalhadoras do sexo devia inspirar outras trabalhadoras. Porque trabalhamos com o corpo, é óbvio que ninguém devia ter controlo sobre o nosso corpo, e que devemos poder fazer o que quisermos com ele.
E se nós conseguimos organizar-nos e exercer o nosso trabalho nos nossos próprios termos, com controlo sobre a nossa indústria — sendo das trabalhadoras mais marginalizadas e menos organizadas — então qualquer trabalhadora pode fazer o mesmo. E espero que isso inspire outras pessoas a perceberem que ninguém deve ter controlo sobre o seu corpo e o seu trabalho. Devem controlar as suas próprias indústrias. Quando isso acontecer, poderemos pôr fim ao capitalismo e fazer a revolução global.
Referiste, durante a tua intervenção, que as pessoas com quem fizeste as entrevistas-piloto tinham todas tomado uma decisão informada ao entrarem para a indústria do sexo. Achas que isso reflecte uma realidade mais alargada?
Tratava-se de uma rede de amigas, muitas delas envolvidas noutros tipos de activismo, por isso não generalizaria a toda a gente da indústria. Mas posso dizer, depois de cinco anos de activismo e de trabalho no sector, que essa é, de facto, a grande maioria. Só uma minoria muito pequena entra nesta indústria sem tomar uma decisão informada.
Muitas mulheres que conheço disseram-me que consideraram entrar no trabalho sexual — seja por telefone, ou outro tipo de trabalho — em momentos de pobreza extrema. E outras disseram que, lá no fundo, sabiam que essa era sempre uma opção, por serem mulheres. Eu não consideraria essas decisões como informadas — são fruto do desespero.
Mas isso aplica-se a qualquer outra indústria. Eu, neste momento, não consideraria trabalhar no McDonald’s — mas é porque não estou desesperada. Se este ano, ou no próximo, me visse mesmo sem dinheiro, talvez aceitasse trabalhar no McDonald’s, ou a limpar casas-de-banho — coisas que hoje nem imagino fazer. Coisas que, para mim, seriam mais indignas e humilhantes do que trabalhar na indústria do sexo. Cada pessoa tem uma ideia diferente do que quer fazer, e do que considera humilhante ou aceitável como trabalho. Acho que a pobreza, por si só, não explica o trabalho sexual, porque, por um lado, há pessoas em situação de pobreza que não trabalham nesta indústria, e escolhem fazer outras coisas — e, por outro lado, há muitas pessoas que trabalham no sexo e não estão em situação de pobreza, e até têm outras possibilidades. Conheço várias pessoas no sector com formação universitária, que deixaram outras carreiras para trabalhar na indústria do sexo. O que não se pode fazer é generalizar: esta indústria tem múltiplas realidades. As pessoas vêm de situações sociais e económicas muito diversas.
Referiste que parte da vossa luta é também contra o capitalismo. Pergunto-me: se, na tua sociedade ideal, o capitalismo deixasse de existir e a sociedade fosse auto-organizada, achas que o trabalho sexual existiria? E, se sim, como seria organizado?
Na minha sociedade ideal, utópica, as pessoas não teriam relações sexuais por dinheiro — tal como não dariam aulas por dinheiro. Fariam tudo por amor, porque quereriam fazê-lo. É por isso que estou a lutar. Mas, enquanto tivermos de viver sob o capitalismo, acho profundamente injusto apontar o dedo às trabalhadoras do sexo. Estamos todos a vender-nos, todos a vender a nossa força de trabalho sob o capitalismo. Por isso, não venham exigir das trabalhadoras do sexo algo diferente daquilo que todos os outros fazem.
Acredito que há um potencial revolucionário entre as trabalhadoras do sexo, precisamente por serem das trabalhadoras mais oprimidas e marginalizadas. Se este grupo conseguir erguer-se, conquistar os seus direitos e tomar controlo desta indústria gigantesca, isso pode ser uma inspiração para todas as outras. Porque, sendo uma indústria clandestina, há muita corrupção — e, se conseguirmos pôr ordem nisto, então qualquer trabalhador pode fazer o mesmo.
Fizeste-me há pouco uma pergunta sobre o trabalho sexual ser como qualquer outro trabalho, e acho que não cheguei a responder. Penso que o trabalho sexual é um tipo de trabalho específico — não é como qualquer outro. Mas há muitas outras indústrias em que também se usa o próprio corpo, e isso não significa que as pessoas não devam ter todos os direitos laborais e humanos, nem que não devam ser respeitadas. Estou a pensar numa indústria próxima da do sexo: a indústria da moda. Há uns anos, quando o concurso Miss Mundo se realizou em Londres, fomos até ao local com faixas e panfletos, convidar as concorrentes a juntarem-se ao sindicato — porque também trabalham com o corpo. Também trabalham numa indústria corrupta. Mas têm direitos. Não os têm todos — é por isso que as convidámos a sindicalizar-se — mas têm muitos mais do que nós. E continuam a ser exploradas, mesmo podendo ganhar muito dinheiro: quem organiza a indústria da moda é que ganha mesmo muito dinheiro. E enfrentam muitos dos mesmos problemas: são empurradas para o consumo de drogas, por exemplo. A diferença está no estatuto social: são vistas como mulheres bem-sucedidas, há jovens que querem ser como elas, estão nas capas das revistas generalistas. E eu pergunto: qual é a diferença? Porque é que elas podem ser respeitadas e bem vistas, e as trabalhadoras do sexo não?
Quando trabalhas no sexo, corres o risco de te envolveres emocionalmente — os clientes estão muito próximos de ti, do teu corpo, e por aí fora. Mas há muitas outras profissões em que isso também acontece. Se eu fosse psiquiatra, por exemplo, acho que não conseguiria lidar com os problemas emocionais das pessoas e desligar tudo às cinco da tarde. Sim, tens de aprender a lidar com toda essa carga emocional que o trabalho traz consigo.
Outra coisa interessante foi o momento em que tive de contar à minha mãe qual era o meu trabalho. A minha mãe, durante muitos anos, foi ama — cuidava de crianças. Isso também é uma mercantilização do cuidado, que na nossa sociedade é visto como ainda mais sagrado do que o sexo — o amor materno é algo quase intocável. Mas, no capitalismo, até isso é transformado numa mercadoria. A minha mãe organizava cinco mulheres que faziam esse trabalho: tomavam conta de crianças durante o dia e, ao final do dia, cada criança ia para sua casa. E eu disse-lhe: “Tu és, no fundo, uma espécie de 'mãe de bordel' — organizas grupos de mulheres para fazerem algo que, numa sociedade ideal, seria feito por amor e não por dinheiro.” E é algo que desperta um instinto básico: o instinto maternal. Estas mulheres amavam crianças durante algumas horas — por dinheiro — e depois essas crianças desapareciam. A maior diferença entre a minha mãe e as mulheres que trabalhavam com ela e as trabalhadoras do sexo é que as amas são legais, são vistas como estando a fazer algo de bom aos olhos da sociedade — e têm direitos. Já uma trabalhadora do sexo, não.
Apoiar esta iniciativa de organização das trabalhadoras do sexo não significa necessariamente que se tenha de concordar comigo quando digo que o trabalho sexual é um trabalho legítimo e que não é, por natureza, exploratório. Quando estávamos numa reunião sindical, havia membros de vários sectores — e eu tentei apresentar uma moção a exigir a descriminalização da prostituição. Depois cada pessoa pôde falar a favor ou contra. E uma das intervenções mais interessantes veio de um trabalhador da GNB que trabalhava em Sellafield, numa central nuclear. Levantou-se e disse: “Eu trabalho em Sellafield, e sei que muita gente nesta sala teria sérias reservas quanto ao que faço e às coisas que produzo. Mas a diferença entre mim e uma trabalhadora do sexo é que eu tenho todos os direitos laborais e humanos. Sou legal, tenho normas de saúde e segurança, tenho equipamento de protecção — e uma trabalhadora do sexo não tem nada disso.” E eu achei que esse era um excelente argumento: independentemente daquilo que cada um pensa sobre a prostituição — mesmo que a achem moralmente errada —, devem juntar-se em solidariedade com este grupo de trabalhadores e apoiar a nossa luta por direitos.
Publicado originalmente na Red & Black Revolution Nº 12, Março de 2007.